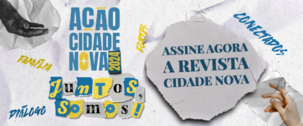Refugiados contam histórias de preconceito e hospitalidade em sua vida no Brasil
Durante seminário organizado pela Agência da ONU para Refugiados, dois congoleses, um sírio e uma colombiana relataram as experiências vividas desde que chegaram ao país
por publicado às 10:45 de 24/06/2016, modificado às 10:46 de 24/06/2016Preconceitos, dificuldades para encontrar emprego e, ao mesmo tempo, hospitalidade da população. Foi assim que quatro refugiados — dois congoleses, um sírio e uma colombiana — descreveram sua vida no Brasil, durante seminário organizado na semana passada (16) pela Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e parceiros no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro.

Da esquerda para a direita, Charly Nzalambila, Nelly Barbosa, Mireille Mulanga e Khaled Feres falam durante evento no Rio. Foto: Matheus Otanari/UNIC
Há quase dois anos no Brasil, a congolesa Mireille Mulanga fugiu da violência de milícias e grupos rebeldes, que vêm utilizando o estupro massivo de mulheres e crianças como arma de guerra em seu país. Trabalhando como intérprete na Cáritas do Rio, organização parceira do ACNUR, ela notou uma recente mudança no fluxo de refugiados congoleses.
“É uma situação bem grave que estou percebendo hoje. Metade dos refugiados que chegam são mulheres grávidas ou com filhos. Os rebeldes estão cada vez mais visando às mulheres”, disse Mireille, explicando que as próprias famílias têm enviado suas mulheres ao exterior como forma de protegê-las da violência.
Dados do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) confirmam essa situação. Segundo o órgão, as mulheres representavam 15,9 mil dos 28,7 mil pedidos de refúgio pendentes no Brasil até o fim de 2015. Entre os 8.493 refugiados já reconhecidos até o fim do ano passado, quase 30% são mulheres.
“[A República Democrática do] Congo é hoje a capital mundial do estupro”, declarou Mirrelle, explicando que, além da extrema violência à qual são submetidas, elas têm sua vida praticamente inviabilizada na comunidade local após o estupro. “A mulher passa a ser considerada lixo, ninguém mais quer conversar com ela. Fica bem marginalizada na sociedade”, disse.
Há oito anos no país, o congolês Charly Kongo Nzalambila, que também fugiu da violência, chamou atenção para o preconceito enfrentado pelos africanos no Brasil. “Muitas vezes somos tratados como ignorantes, dizem que moramos com macacos e leões na floresta, só pelo fato de sermos africanos”, afirmou em sua apresentação no evento “Vozes do Refúgio: dados globais, olhares locais”.
Segundo ele, nos momentos em que o fluxo de chegadas ao Brasil aumenta, os refugiados passam a ser serem cada vez mais associados à criminalidade. No entanto, ele acredita que esse sentimento não seja homogêneo em toda a população.
“O povo brasileiro é maravilhoso, se oferece para ajudar, para dar comida, ensinar português. Se alguns parassem de confundir refugiados com foragidos, já seria uma coisa boa”, disse Charly, completando que o Estado brasileiro também tem sido receptivo, uma vez que a lei do refúgio (Lei nº 9.474/97) prevê que logo após o pedido de asilo o refugiado já possa obter documentos para trabalhar.
Depois de trabalhar em uma empresa privada onde ganhava cerca de 1 mil reais por mês e não conseguia sustentar a família, Nelly tenta agora ganhar a vida vendendo artesanato nas ruas da capital fluminense. No entanto, como não obteve autorização da prefeitura para tal, preocupa-se com sua situação. “Fico angustiada, porque é tudo o que tenho para me sustentar”, declarou.
“Não é fácil deixar o país, principalmente nas condições difíceis como saem os refugiados”, afirmou. “É um pouco difícil conseguir trabalho, já que temos outra cultura, outro idioma. Não é fácil recomeçar a vida.”
O sírio Khaled Feres, 27 anos, também passou a trabalhar como ambulante, vendendo comida típica de seu país nas ruas do Rio, depois de tentativas frustradas para continuar seus estudos em Odontologia, aos quais se dedicava em Damasco.
Refugiado no Brasil há dois anos, ele criticou a burocracia das universidades brasileiras. “Me pediram histórico escolar, comprovante de residência. Não tenho todos esses documentos”, disse.
Apesar disso, ele é grato ao acolhimento do Brasil, após ter fugido de uma guerra que já deixou pelo menos 500 mil mortos desde 2011.
“Muitos pensam que na Síria sempre teve guerra, mas não é isso. É um país em que se tinha uma boa vida”, afirmou, lembrando que o país recebeu muitos refugiados durante duas guerras mundiais, o que lhe está sendo negado agora por muitos países, principalmente europeus. “Quero que meus filhos tenham sangue brasileiro”, concluiu.